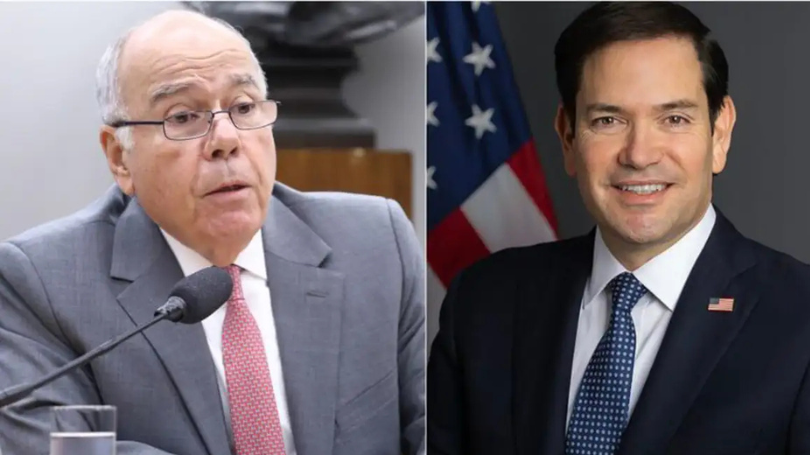Destaque
China e Estados Unidos cobiçam o tório brasileiro
- 1/10/2025
Há um certo truque de prestidigitação em torno das discussões sobre minerais críticos no Brasil. Enquanto toda a plateia está com os olhos vidrados nas terras raras – não que elas não tenham relevância –, a cobiça das grandes potências se volta em outra direção. O governo tem captado crescentes sinais do interesse internacional, sobretudo da China e dos Estados Unidos, no tório brasileiro.
Ainda muito pouco utilizado, o mineral é visto como uma alternativa estratégica para a geração de energia nuclear, com potencial de coabitar ou até mesmo substituir o urânio no longo prazo. O Brasil ocupa uma posição de centralidade nesse jogo.
De acordo com o United States Geological Survey (USGS), o serviço geológico norte-americano, cerca de 10% das reservas globais conhecidas do minério estão concentradas em território brasileiro. Trata-se do segundo maior depósito de tório do mundo, com 630 mil toneladas aproximadamente, atrás apenas da Índia – 850 mil toneladas. Estados Unidos e Austrália vêm logo a seguir, cada um com aproximadamente 590 mil toneladas.
E há, sempre ela, a China, candidata a assumir a dianteira desse ranking. O país asiático garante ter descoberto recentemente uma jazida na Mongólia Interior com um volume estimado de um milhão de toneladas de tório. Os chineses alardeiam que seria minério suficiente para suprir o consumo interno de energia por 60 mil anos!
Esse “achado” mineralógico pode ditar as regras do game e colocar os Estados Unidos em corner na disputa por tório e, de maneira mais ampla, pela supremacia da energia nuclear no mundo. Hoje, os norte-americanos concentram quase um terço da produção total. Os chineses somam cerca de 16%.
Entre mapeamento, sondagem, definição de reservas, exploração e extração propriamente dita, o ciclo para o início da produção comercial de tório, obtido sobretudo a partir da lavra da monazita, pode levar de cinco a dez anos.
Ou seja: mesmo que as mais otimistas estimativas acerca da reserva na Mongólia se confirmem – e ainda não há garantias em relação a isso –, a China terá de sair comprando o mineral pelo mundo para dar sequência ao seu ousado programa de energia nuclear, que é para já.
O país está criando um mercado natural para o tório na esteira de um notável avanço científico anunciado recentemente. Pesquisadores chineses conseguiram recarregar combustível em um reator de sal fundido de tório (MSR), localizado no deserto de Gobi, enquanto o equipamento estava em operação.
O teste indica que o uso e o reabastecimento do reator podem se dar de forma contínua, sem necessidade de interrupção. O mais irônico é que a China não partiu do zero, mas de pesquisas iniciadas pelos Estados Unidos nos anos 60 e 70, posteriormente encerradas.
O referido MSR é o único reator de tório em operação em todo o mundo. Por pouco tempo. A China está construindo um equipamento com capacidade cinco vezes maior, que deverá iniciar sua atividade em 2030.
Some-se o fato de que o país asiático anunciou recentemente a montagem do primeiro navio porta-contêineres movido a energia nuclear, mais precisamente tório, do mundo. Trata-se de um projeto-piloto para o que deve vir a ser um grande programa de Estado para a construção de embarcações impulsionadas a geração nuclear.
O duelo geopolítico entre as duas maiores potências do Planeta é o pano de fundo para o aumento do interesse pelo tório brasileiro – como de resto em todo o mundo. Por ora, no entanto, esta é uma disputa assimétrica.
Os Estados Unidos apresentam poucos avanços científicos no uso do tório se comparados aos chineses. O que não quer dizer que o governo Trump não esteja se mexendo para recuperar o terreno perdido.
O Department of Energy (DOE) lançou um programa de subsídios para aliviar custos de taxas regulatórias para o licenciamento de reatores nucleares avançados, um estímulo ao uso do tório. Há um projeto de lei em tramitação no Senado norte-americano, chamado “Thorium Energy Security Act”, que propõe preservar estoques de Urânio-233 “não contaminado” para fomentar o desenvolvimento de reatores de sal fundido a tório.
Em paralelo, existem projetos em andamento tocados por investidores privados. A Flibe Energy, uma startup do Tennessee, desenvolve o LFTR (Lithium Fluoride Thorium Reactor), um reator de sal fundido térmico abastecido pelo mineral.
Por sua vez, a Clean Core Thorium Energy, de Illinois, conduz pesquisas para o uso combinado de tório e Haleu (High-Assay Low-Enriched Uranium), ou urânio de baixo enriquecimento de alta graduação, em reatores nucleares. A ideia é substituir o uso do urânio convencional em usinas já em operação, o que anteciparia a demanda por tório sem ter de esperar pela construção de novos reatores.
O Brasil está bem-posicionado para ser um dos grandes supridores globais de tório, seja pelo tamanho das reservas identificadas, seja por alguns arranjos regulatórios já realizados.
O Artigo 177 da Constituição e a Lei nº 4.118, de 1962, determinam o monopólio da União sobre pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e o comércio de minérios nucleares. Mas é importante lembrar que essas amarras foram afrouxadas em 2022, no governo Bolsonaro.
A Lei nº 14.514 abriu caminho para a entrada de investidores privados na exploração desses elementos, desde que em parceria com a INB (Indústria Nucleares do Brasil). Ainda que tímido, já foi dado um primeiro passo nessa direção.
Há alguns meses a INB vem conversando com potenciais parceiros privados para a exploração de urânio. Entre as pretendentes despontam Rosatom, da Rússia; Kazatomprom, do Cazaquistão; BHP, da Austrália; e a China General Nuclear Power Group.
O governo já discute estender esse mesmo modelo para acelerar a produção de tório.